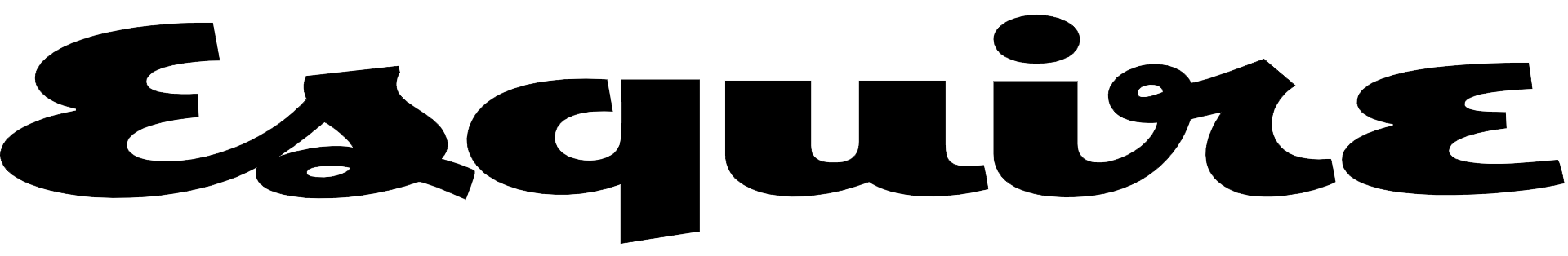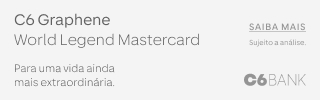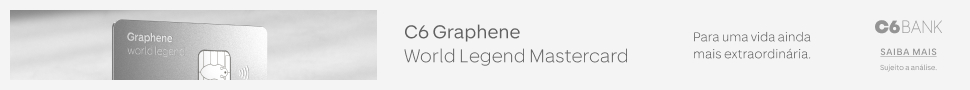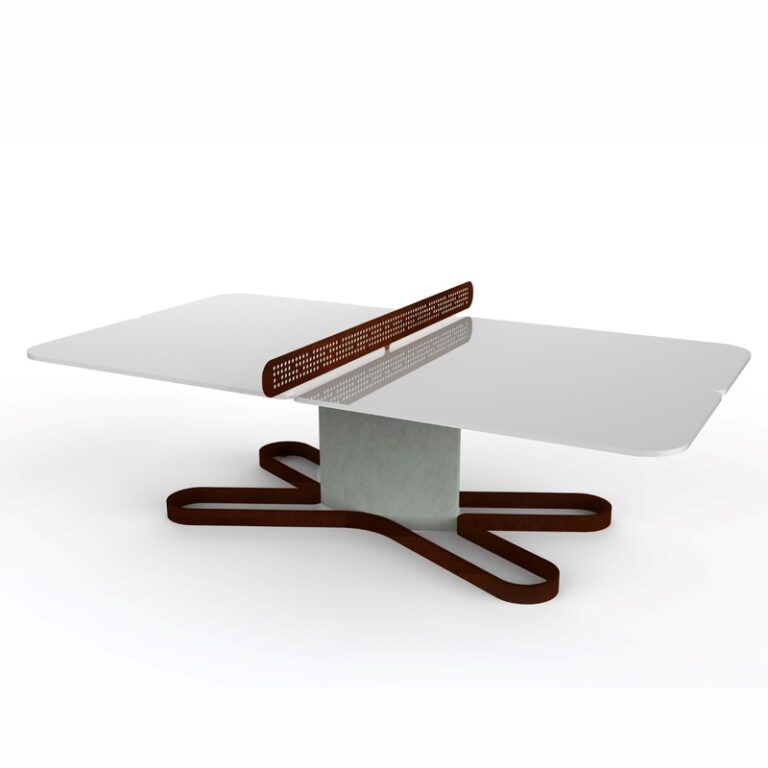Não vivi um momento epifânico de decidir, por algum tipo de iluminação divina, me tornar fotógrafo. Foi a contingência da morte de meu pai, aos meus 15 anos, que me jogou no trabalho. Entrei como estagiário no estúdio da Editora Abril e logo tive um ofício — este: o do registro fotográfico de qualquer coisa — fotografava de urubu à cobra d’água.
O ofício me formou, e por anos busquei uma identidade como artista. Meio errática, esta busca de alguma maneira me “define” — se há algo que possa ser definido nesta área tão subjetiva como estar atrás da câmera e escolher seus sujeitos/objetos de uma maneira aleatória. O pêndulo que faço pelas várias vertentes da fotografia talvez seja a peça original na engrenagem da minha vida de fotógrafo.

Não me ponho como testemunha de um tempo, no sentido de pará-lo. Algumas imagens minhas, muito antigas e que vieram carregadas até os dias de hoje, vieram porque seus personagens as trouxeram, mas também porque há algo de insolente nelas. O tempo, neste caso, é vento a favor — soprou-as até o aqui e agora.
Convivi com figuras muito fotografadas, mas que não tive a oportunidade de tê-las diante de minha câmera — ou porque dependia de terceiros, ou por falta de informação minha, ou ainda por desinteresse mesmo. As figuras de Tom e Vinícius pertencem ao primeiro grupo e são uma lacuna no meu feixe de encontros.
Andy Warhol dizia mais ou menos assim: “Retrato só interessa se for de alguém famoso”. Obviamente era uma boutade. Eu não chegaria tão longe, mas claro que alguém conhecido suscita no espectador um interesse maior.
Há muita beleza na feiura — e vice-versa. A minha série “Antifachadas”, sobre fachadas carcomidas, sem horizonte e sem chão, em São Paulo, de 2004, é uma celebração da beleza na feiura.
O fracasso, muitas vezes, me subiu à cabeça (rsrs). Faz parte do jogo. Claro que uma vida vista assim, do ponto de vista do sucesso — obviamente não estaria aqui nesta seção caso eu não o tivesse atingido de alguma forma —, não existe sem os tropeços. O clique do obturador é o som do mecanismo óptico que transforma em imagem o silêncio — que pode ser estrondoso ou imperceptível, a depender do que a imagem emana.
Apesar deste meu nome gringo, o Brasil é em mim fundação, cenário, escolha, vida, grandezas e misérias.
Claro que há fotos que gostaria de apagar — são algumas —, mas foram feitas por mim, e isso eu assumo. Fazem parte do lixo de imagens medíocres que povoam as redes e seus subterrâneos.
Suponho que todos têm um mestre — alguém a quem almejamos ao menos alcançar seus pés. Alguém, em geral, do mesmo ofício. Tenho os meus: conterrâneos e estrangeiros, contemporâneos, históricos, apocalípticos e integrados. Para ficarmos em poucos: Otto Stupakoff, Maureen Bisilliat, Richard Avedon, Annie Leibovitz, Diane Arbus.
O advento digital dessacralizou velhos rituais do saber fotográfico, franqueou a muitos fotografarem. Isso é bom e ruim. Nunca houve tantas fotos ruins como as fotos ruins de hoje, mas foram criados outros rituais — mais participativos e mais intuitivos. Sou adepto deles.
Vou citar aqui o fotógrafo norte-americano Richard Avedon, que diz que uma série de retratos feita por ele, de pessoas de diferentes matizes, diz mais sobre ele do que sobre seus retratados. Tô de acordo.
Bob Wolfenson é fotógrafo há mais de 50 anos e uma das principais referências da fotografia brasileira. Sua obra transita entre retratos, moda, nus e projetos autorais, além de campanhas publicitárias. Realizou exposições em instituições como Masp, MAB-Faap, Museu da Imigração e Galeria Millan. Suas obras integram acervos do Masp, MAC-USP, Museu da Fotografia de Fortaleza e Itaú Cultural. Seu mais recente livro, “Exteriores”, está nas livrarias.