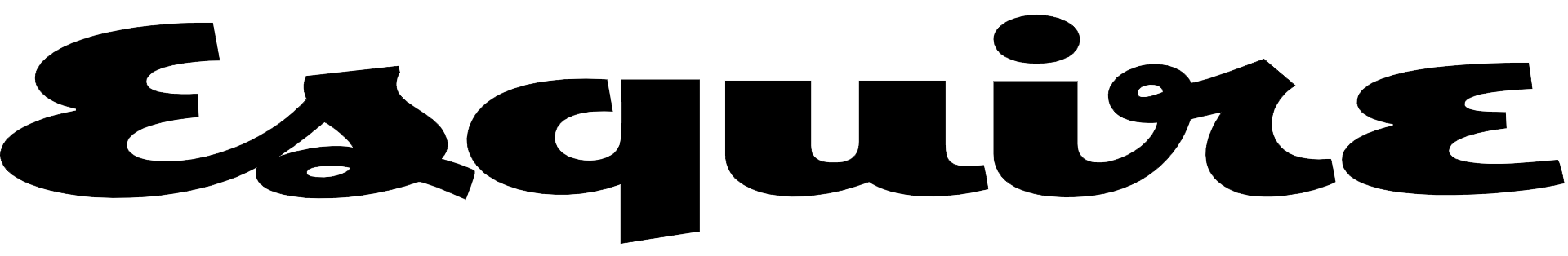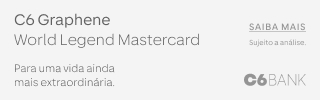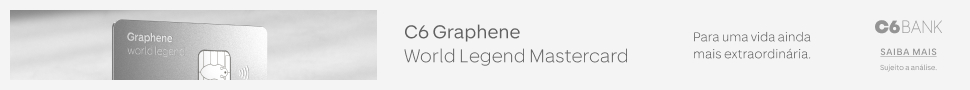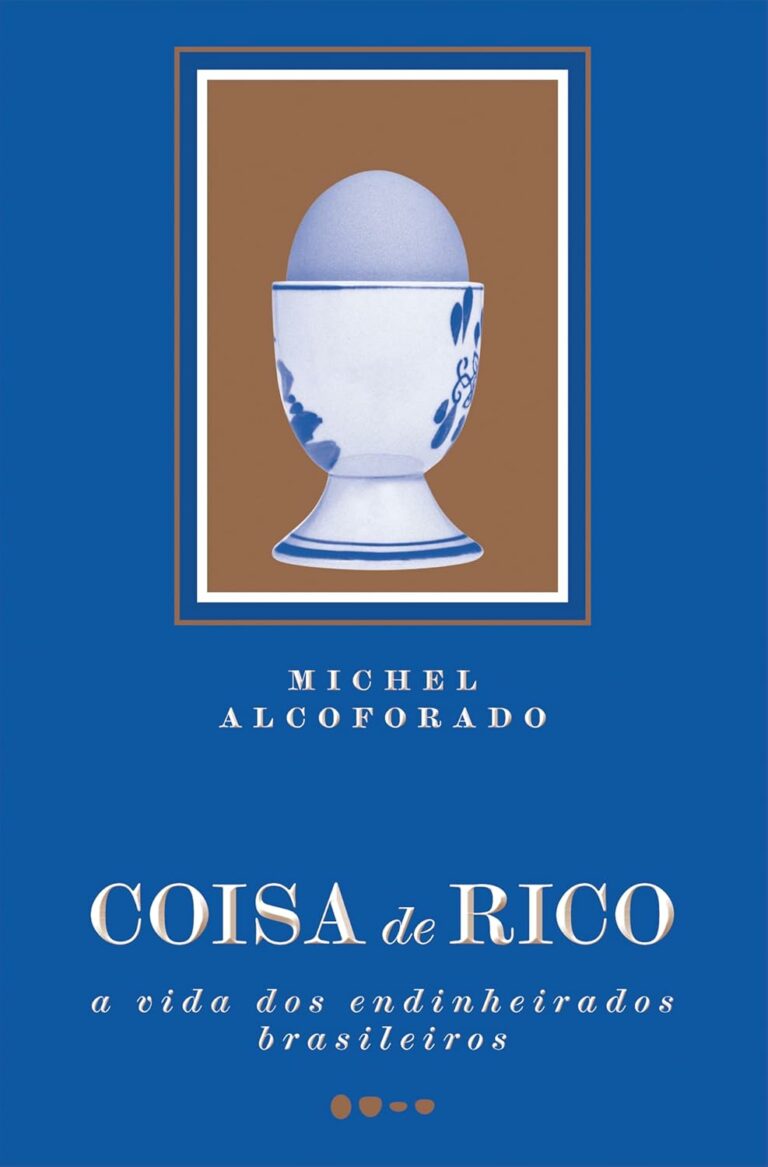A cantora Mercedes Sosa morreu, em Buenos Aires, na madrugada de 4 de outubro de 2009. Governos de diversos países da América Latina manifestaram pesar. Na Argentina, os estádios de futebol respeitaram um minuto de silêncio antes dos jogos. Milhares de fãs acompanharam o velório e o enterro.
A despedida da artista marcou profundamente a vida de ao menos um brasileiro. Ricardo Frugoli havia chegado a Buenos Aires um dia antes e ido direto para o hospital visitar Mamita, como chamava a amiga Mercedes. A cantora já não estava consciente. Ele pegou em sua mão e entoou Alguém cantando, música de Caetano Veloso de que ambos gostavam.
Frugoli tinha uma produtora e agenciava artistas – entre eles, Sosa. “Viramos grandes amigos, eu era como o filho brasileiro dela”, conta. “Mercedes era a pessoa mais generosa que conheci na música. Quando ela morreu, a minha vida desmoronou. Entrei em depressão, não queria mais trabalhar. Comecei a me desligar dos artistas do escritório e a repensar a minha vida. O que eu gosto de fazer? O que me faz feliz?”, conta.
Após meses de questionamento, o paulistano de Pirituba (zona norte), que tem ciências sociais como primeira formação, decidiu estudar gastronomia. “Eu já cozinhava, gostava de receber amigos em casa. Mas não tinha técnica. Nessa época, eu ainda trabalhava com a Gal Costa, foi a minha última artista. Viajava com ela toda semana e acabava perdendo uma aula ou outra, mas, assim que terminei a faculdade, entrei no mestrado e emendei no doutorado.”
O que Frugoli ia fazer com todo esse conhecimento? Ele não tinha a menor ideia. “Eu não ia abrir restaurante, não tenho o estereótipo de chef. Não sou musculoso nem tenho tatuagem”, pondera. “Decidi então virar pesquisador da cozinha brasileira. E foi o que eu fiz. Passei a trabalhar como consultor em diversas partes do país.”
Até que a pandemia do coronavírus chegou.
Logo no início, Frugoli perdeu muitos amigos. Diabético, com colesterol alto e obeso, acreditava que se pegasse covid-19 morreria. Trancou-se em casa, com medo. “Até que vi pessoas comendo lixo na minha porta. Isso me tocou profundamente”, lembra ele, que mora na região central de São Paulo. “Decidi que eu não podia morrer sem fazer nada. Tenho muita gratidão por tudo o que eu consegui na vida, então, se fosse para morrer, não ia morrer de braços cruzados. Preferia morrer fazendo comida.”
Marco Cruz, aluno de Frugoli na época, comprometeu-se a distribuir as marmitas que ele passou a fazer, contando com a ajuda do companheiro, Wesley Vidal. “Era insano. Na minha casa, eu tinha capacidade para preparar 120 refeições por dia. Esse era o máximo que conseguia fazer. Passava as manhãs cozinhando e, sempre ao meio-dia, as marmitas saíam para a distribuição. Começamos com quatro voluntários e chegamos a ter quase cem para entregar a alimentação e fazer as compras dos ingredientes.”
Estava criado o projeto Marmita Solidária.
Passaram-se muitos meses até que Frugoli tomou coragem e saiu de dentro do apartamento – o que não foi uma experiência fácil. “Quando voltei a andar pela rua, tudo ficou mais forte. Comecei a encontrar as pessoas que comiam a minha comida e a ver a gratidão que elas tinham por mim, mesmo sem nunca terem me visto.”
Esse foi o embrião para um segundo projeto, o Pão do Povo da Rua, lançado em outubro de 2020, depois que Frugoli recebeu a doação de alguns equipamentos de uma padaria artesanal que havia fechado pela crise econômica.

O primeiro desafio foi criar um pão ideal para o consumo de quem estivesse nas ruas. “Minha percepção inicial era de que o pão tinha de ser macio, porque muitas vezes as pessoas em situação de rua têm problemas de dentição. Precisava ser saboroso, porque não teria nenhum recheio, e, lógico, nutritivo. Eu sabia que um pão francês tradicional não atenderia.”
Ele desenvolveu, então, a receita do pão com cacau, farinha integral, açúcar mascavo e manteiga. “São os quatro ingredientes que dão força.”
Quem passa na rua Dr. Pedro Arbues, no bairro da Luz, centro de São Paulo, onde hoje está sediado o projeto, sente de longe o cheirinho gostoso do pão saindo do forno. Cada pessoa recebe dois pães, um bolinho doce e um copo de bebida quente. Tudo é embalado individualmente, pois, caso os alimentos fiquem na rua e sejam encontrados por outras pessoas, permanecem limpos para o consumo.
“As pessoas se deslocam, às vezes, quilômetros a pé para vir até aqui pegar um pão. Porque elas têm fome. Você viu quanta gente dorme aqui na porta? Muitas vêm para o café da manhã, acabam ficando para o almoço e depois para o pãozinho do fim de tarde.”
Hoje são distribuídos 800 cafés da manhã e 600 refeições no almoço. Além disso, o projeto auxilia 40 famílias no jantar. Elas são cadastradas, recebem uma sacola com tupperwares e podem abastecê-los todos os dias. A quantidade de comida é calculada de acordo com quantos integrantes a família possui.
O professor celebra as parcerias que mantém com a prefeitura, porque diz que, da pandemia para cá, as doações caíram 90%.
Ainda assim, o trabalho aumentou, e Frugoli precisou de ajuda com mão de obra. Começou, então, a empregar as pessoas que iam ali para comer – muitas em situação de rua e/ou usuárias de drogas, especialmente crack.
Andando pela sede do projeto, o “professor”, como Frugoli é chamado, é cumprimentado por todos com carinho. Os funcionários contam como reconstruíram a vida depois de começar a trabalhar ali.
Mas, numa das paredes, bem grande, está pintada a palavra “utopia”. Até Frugoli, vez ou outra, tem suas convicções abaladas.
“No começo, eu não tinha assistência social, não tinha psicólogos, não tinha nada. Achava que eu ia salvar o mundo. Então, eu trabalhava sábado, domingo, o tempo inteiro, não tinha folga. Até que entendi que não ia conseguir e precisei estabelecer limites. Mas acredito que essas pessoas se recuperaram muito por causa da escuta. Já houve casos de pessoas que começaram a trabalhar aqui e, no dia em que recebiam o salário, sumiam. Pegavam o dinheiro para usar drogas. E eu não tinha nenhum distanciamento para lidar com isso, sofria muito, muito, muito. Ainda hoje, cada queda me entristece, mas entendi melhor os processos. Entendi que a recaída, muitas vezes, também faz parte da cura. Eu tento sempre dar apoio e, acima de tudo, acredito na independência financeira. Na autonomia para que as pessoas possam, com o trabalho e o dinheiro delas, estar plenas.”
A realização do professor foi reconhecida pela ONU, e ele foi, em outubro do ano passado, intitulado Food Hero pela FAO (braço das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).
“Foi uma grande surpresa na minha vida. Não tenho capa, mas virei herói, então, quero usar isso a favor deles [pessoas vulneráveis]. Esse é meu grande objetivo. Pude conhecer o mundo, que era um sonho meu, e hoje preciso de menos para viver. Caixão não tem gaveta, não preciso acumular tanta coisa. Fazer esse trabalho me deixa feliz”, diz, orgulhoso.
E completa: “Embora eu esteja com burnout.”
O tão comentado esgotamento do ativismo bateu. “Os perrengues financeiros, a falta de recursos, a necessidade de correr atrás o tempo inteiro… Eu não conseguia dormir. A ideia de que isso não pode acabar, porque hoje são 40 vidas diretas e 1.300 indiretas dependendo desse projeto. Não posso abandoná-las.”
O casamento de nove anos também enfrentou crises. “Eu e o Wesley quase nos separamos, porque o projeto me tomou completamente, e eu não conseguia enxergar. Estou em tratamento há mais de um ano, me sinto mais consciente. Não dá para fazer tudo hoje. Tem coisas que vão ficar para amanhã, tem outras que vão ficar para a semana que vem.”
A vantagem é que ele não tem pudor de pedir. Nada a ninguém. Conta, rindo, que tem gente que, ao encontrá-lo, foge, porque sabe que ele vai pedir ajuda. Quando se coordena uma organização com tantas frentes, diz ele, tudo serve, tudo pode ser aproveitado.
“O que me move é a fé. Ela me protege e me ajuda a conseguir tudo que eu desejo. Mas, claro, eu faço o que tem para ser feito. Se me dão um limão, é aquela coisa, eu faço a limonada. Fui um menino de 14 anos que sonhou conhecer Mercedes Sosa, Milton Nascimento. Cresci e tive os dois comendo na minha casa algumas vezes. Sempre achei que seria impossível, mas aconteceu. É uma loucura, mas não é sorte. Eu corro atrás.”
Entre as tantas limonadas que Frugoli fez em sua vida, a que o levou de professor de educação moral e cívica a operador de turismo e, finalmente, a produtor executivo de celebridades da música talvez seja a mais saborosa.
Apaixonado por música, ele leu uma reportagem no jornal, no início dos anos 2000, sobre Edith do Prato, que vivia em Santo Amaro da Purificação. Encantou-se com a história da octogenária e decidiu, com a mãe e a avó, ir até a Bahia procurá-la e comprar seu disco. Nunca tinha ouvido uma música da artista na vida, só sabia, também por meio da reportagem, que ela tinha gravado com Caetano no disco Araçá Azul.
“Quando chegamos lá, ela fez uma festa. Assinou meu disco, me ofereceu um café. Depois, me convidou para o jantar. No dia seguinte me chamou para o almoço. E me apresentou à sua vizinha, Dona Canô”, conta, ainda hoje, emocionado.
Dona Canô, no caso, era a mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia. “Quando ela teve o Caetano, o leite secou. Dona Edith estava com criança pequena e amamentou o Caetano. As famílias tinham muita proximidade.”
A partir daí, Frugoli criou proximidade também. Ele ajudou a produzir uma série de shows de Dona Edith do Prato em São Paulo, e acabou trabalhando e conhecendo seus grandes ídolos, entre eles Mamita, sua amada Mercedes Sosa.
“Ela foi muito importante na minha vida. E, anos depois, olha o que aconteceu: eu trabalho com gastronomia e coloco meu conhecimento à disposição da sociedade, coisa que a Mercedes fez a vida toda. Para você ter uma ideia do carinho por ela, nossas kombis que entregam comida se chamam Merceditas. No painel, vem um bonequinho da Mercedes, que é vendido na Argentina. Ela foi um grande agente pela justiça social. Então, nada mais justo do que homenageá-la com esses carros que circulam distribuindo pães para a população em situação de vulnerabilidade.”