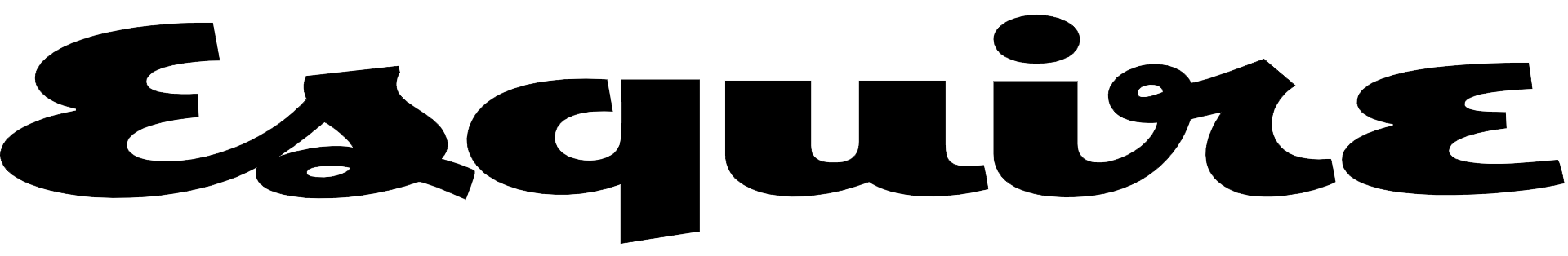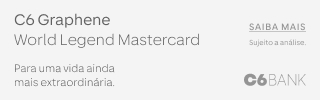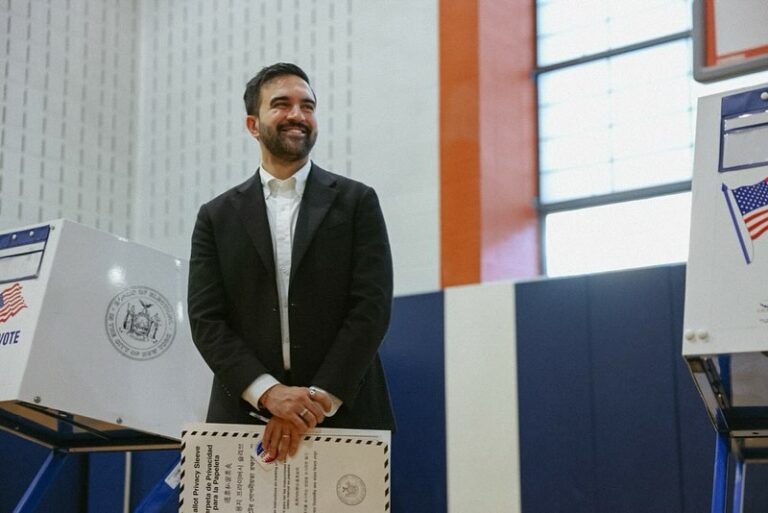Zohran Mamdani, um legislador estadual pouco conhecido, surpreendeu o ex-governador Andrew M. Cuomo na primária democrata para prefeito de Nova York, realizada no final de junho, conquistando uma vantagem de centenas de milhares de votos. Mamdani, socialista democrata de 33 anos do Queens, captou a preocupação dos eleitores com a crescente crise de acessibilidade na cidade.
Sua campanha animada atraiu novos eleitores que rejeitaram as descrições negativas de Cuomo e apoiaram uma plataforma econômica que propunha transporte público gratuito, creches e supermercados públicos. Muçulmano, apoiador dos palestinos, Mamdani enfrentará uma eleição geral competitiva em novembro, com a presença de novos desafiantes.
Mamdani, que nasceu em Uganda e se naturalizou norte-americano, é filho de Mira Nair, renomada cineasta indiana-americana, conhecida por obras aclamadas como “Salaam Bombay!”, “Monsoon Wedding” e “The Namesake”, que exploram com sensibilidade temas de identidade, migração e cultura. Nair combina sua trajetória artística com um forte engajamento social, refletido também na carreira política do filho. Seu olhar cinematográfico, que transita entre o Oriente e o Ocidente, ajudou a moldar uma visão de mundo multicultural que hoje inspira a plataforma progressista de Mamdani. Já o presidente Donald Trump comentou o resultado da prévia chamando o democrata de “lunático 100% comunista”.
São variadas as explicações para o apelo que Mamdani exerce sobre os eleitores nova-iorquinos e as polêmicas que o envolvem em declarações recentes — seja em entrevistas, seja em comícios. Elas têm a ver com as suas propostas eleitorais, afastadas dos slogans de políticas identitárias: creches públicas, congelamento do preço dos aluguéis, construção pela prefeitura de moradias mais baratas, supermercados municipais e acesso gratuito aos ônibus da cidade.

As críticas derivam do uso pesado e eficiente de mídias sociais: Mamdani mergulhou no Oceano Atlântico no auge do último inverno para frisar a sua intenção de congelar o valor do aluguel, caso fosse eleito prefeito. Também vêm das críticas que costuma fazer: tanto ao governo de Israel quanto aos doadores trumpistas da campanha de Cuomo, entre os quais o bilionário Ken Langone, autor do livro “I Love Capitalism!: An American Story”. E nascem, sobretudo, da percepção corrente de que “o sonho americano” se transformou em uma promessa vazia para as classes média e trabalhadora nos EUA.
Mamdani tem destacado a desigualdade socioeconômica como o problema mais urgente do debate político atual. A precarização das condições de trabalho e os baixos salários dificultam a mobilidade social. O “sonho americano” — uma crença profundamente enraizada entre cidadãos e imigrantes nos EUA — sustenta que o trabalho árduo é capaz de promover a ascensão social e o enriquecimento material. Essa ideia do self-made man apoia-se na ilusão de que não existem barreiras de classe para aqueles que se dedicam com afinco e determinação. No entanto, cresce o questionamento de que esse esforço contínuo e excessivo não leva ao sucesso prometido, mas sim à exaustão e à deterioração dos corpos dos trabalhadores.
Esse fenômeno de frustração e declínio é o que o etnógrafo americano Tom Wooten denominou “a armadilha do esforço” em um estudo sobre como as escolas de ensino médio em New Orleans, no Estado da Louisiana, introjetam nos estudantes a ideologia da perseverança ou da conquista.
Diante de objetivos inalcançáveis, a persistência deixa de ser virtuosa para se tornar improdutiva, transformando a desistência — após longos períodos de esforço infrutífero — em motivo de vergonha individual. Para Wooten, “a armadilha do esforço” é produzida por uma estrutura social que estimula a exaustão estéril. Em vez de recompensar o trabalho árduo, ela impede a realização de metas.
O “sonho americano”, nesse contexto, torna-se contraproducente: ultrapassar os próprios limites afunda o indivíduo no retrocesso material, resultando em um corpo adoecido e uma mente exaurida. Segundo Wooten, “a armadilha do esforço” constitui um mecanismo de reprodução social pouco reconhecido. Ela é uma forma socialmente estruturada de levar ao fracasso jovens ambiciosos de famílias pobres — não apesar do seu empenho, mas precisamente por conta do esforço excessivo.

Com essa mensagem contra a desigualdade, Mamdani recebeu o apoio de Alexandria Ocasio-Cortez (conhecida pelas iniciais AOC), uma congressista democrata, afiliada à organização Socialistas Democratas da América (Democratic Socialists of America — DSA). AOC é uma das políticas progressistas mais proeminentes dos EUA, alvo preferencial do Partido Republicano, do eleitorado conservador e do atual presidente dos EUA, Donald Trump. Assim como AOC, Mamdani é afiliado à DSA e pertence à geração dos socialistas millennials, a mais atual manifestação nos EUA de uma corrente política influenciada pelo pensamento do filósofo alemão Karl Marx (1818-1883). Marx, o bicho-papão comunista, e América, a representante suprema do capitalismo, parecem ter uma relação semelhante à do azeite e da água. Formam uma aliança improvável, geradora de medo entre a população americana e resumida na expressão “a ameaça vermelha”. Mais que isso, a sua associação representa um tabu.
“Desde o fim do século 19, existe a percepção de que Marx representaria o oposto do que seria bom na América, a nação anticomunista”, diz o historiador americano Andrew Hartman em entrevista a “Esquire Brasil”. Marx e EUA, porém, podem estar mais unidos do que se suspeita. No livro recém-lançado “Karl Marx in America” (The University of Chicago Press), Hartman mostra como a Guerra Civil Americana (1861-1865) influenciou Marx na formulação de suas ideias sobre trabalho e liberdade — conceitos centrais para a sua obra-prima “O Capital”. Hartman afirma ter ficado surpreso enquanto fazia a pesquisa para o seu livro, um projeto de cerca de dez anos. “Muita gente nos EUA leu os escritos de Marx e colocou as suas ideias em prática, sobretudo em períodos em que a desigualdade aumentou e o fosso entre o sonho americano e a realidade se aprofundou”, ele diz.
As reflexões de Marx sobre o capitalismo impactaram a vida política e intelectual dos EUA nos últimos 200 anos. Elas continuam a ressoar, ainda que de forma oculta, no imaginário americano contemporâneo. Hartman conta que Marx, ao acompanhar a guerra civil entre os Estados do Norte (a favor da expansão de uma economia mais industrializada) e os do Sul (a favor da manutenção da escravidão), percebeu a relação intrínseca entre autonomia individual e atuação profissional.
“A abolição do regime escravocrata era um passo necessário em direção à emancipação da classe trabalhadora”, afirma Hartman. Para Marx, a noção de liberdade se assentava na capacidade de os trabalhadores terem o poder de decidir sobre o seu cotidiano e destino. Eles seriam livres apenas e quando, de acordo com Hartman, “tivessem autonomia sobre suas vidas, sobre o seu tempo e sobre os seus corpos”.
Marx passou a acompanhar mais atentamente os eventos políticos e econômicos nos EUA em 1853, quando a convite iniciou uma colaboração com o “New York Daily Tribune”, um jornal não oficial do Partido Republicano fundado por Horace Greely e com um viés progressista e antiescravidão. Como correspondente europeu do “Tribune”, Marx escreveu e publicou 487 artigos individuais e 12 em parceria com Friedrich Engels. Esses textos jornalísticos formam a maior parte da produção escrita do filósofo alemão, segundo Hartman. As ideias de Marx alcançaram um grupo amplo de leitores, o maior que o autor teve em vida, já que o “Tribune” era o jornal com mais assinantes do mundo, cerca de 200 mil em 1855, o dobro da publicação britânica “The London Times”. Mais receptiva, essa audiência tendia a nutrir interesse tanto em ideais republicanos, como autonomia e liberdade, quanto em conceitos socialistas, como solidariedade e bem comum.
Em seu livro, Hartman explora um tema que de tempos em tempos ganha proeminência na história dos EUA, sobretudo nos momentos de crise econômica que evidenciam os excessos capitalistas e as limitações do sonho americano. Para Hartman, as ideias socialistas de Marx sobre o trabalho, o capital e a liberdade representam “um alerta sobre o futuro americano alternativo”. As teorias marxistas teriam sacramentado a noção de que em sociedades dominadas pela lógica do capital nunca existiria o trabalho livre. Essa percepção teria ficado mais evidente a partir da crise financeira de 2008. “Quando a promessa do sonho americano falha, as pessoas notam com mais clareza que o trabalho duro serve para enriquecer a elite e empobrecer os trabalhadores”, diz Hartman.
O tabu em torno do socialismo na história americana continua tão presente hoje quanto em períodos turbulentos anteriores, segundo Hartman. A influência de ideias socialistas — baseadas no pressuposto da solidariedade social — tornou-se mais visível neste ano. De um lado, nas declarações de Trump contra o chamado “marxismo cultural”; de outro, nos comícios de Bernie Sanders e Ocasio-Cortez em diversas cidades do país com o lema “Lutem contra a oligarquia”, um ataque direto aos bilionários. “Desde o fim da Guerra Fria, tornou-se mais difícil convencer as pessoas da ameaça socialista”, diz Hartman. O termo “marxismo cultural”, uma criatura das guerras culturais dos anos 1980, é uma resposta a essa dificuldade. “Nascido como uma teoria da conspiração, o ‘marxismo cultural’ promoveu uma reviravolta conceitual ao dizer que ideologias estrangeiras teriam se infiltrado nas escolas e na mídia americanas para destruir a nação”. Não à toa, segundo Hartman, instituições culturais e de ensino, como John F. Kennedy Center for the Performing Arts e National Endowment for the Humanities, tornaram-se o alvo preferencial do governo de Trump.
A disputa ideológica entre o capitalismo e seus críticos é revitalizada com o lançamento de “Capitalism and Its Critics: A History — From the Industrial Revolution to AI” (Farrar, Straus and Giroux), obra do jornalista da “New Yorker” John Cassidy. Esse livro, ao lado de “The Haves and the Have-Yachts: Dispatches on the Ultrarich” (Simon & Schuster), de Evan Osnos, integra um conjunto de publicações recentes que registram um crescente mal-estar entre os americanos diante dos efeitos de um sistema econômico tratado como inevitável — justamente por ser visto como o único viável.
O crítico literário americano Fredric Jameson e o filósofo esloveno Slavoj Žižek resumiram essa percepção de inevitabilidade ao observarem que seria mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Embora a sigla TINA — There Is No Alternative — continue a ser usada para reforçar a ideia de que não há alternativas reais ao modelo atual, as críticas aos estragos promovidos por ideias e práticas capitalistas persistem. Elas se fortalecem principalmente em períodos de instabilidade econômica e deterioração das condições materiais de vida, quando o capitalismo revela suas limitações e perversões mais agudas.
Biógrafo do ex-presidente Joe Biden e repórter premiado, Osnos compila exemplos de extravagâncias e corrupção em seu livro mais recente ao investigar os hábitos, estratégias e distorções que definem a era contemporânea dos “ultrarricos”, já classificada por historiadores de a “Nova Era Dourada”. Há dez anos, não existia nenhum indivíduo com fortuna superior a US$ 100 bilhões. Hoje, segundo a Forbes, pelo menos quinze pessoas já ultrapassaram essa marca. Nas próximas quatro décadas, os 0,0001% dos americanos mais ricos — cerca de 19 indivíduos na população atual — verão sua participação na economia nacional multiplicar-se por dez, passando de 1,8% para 18% do total.
Osnos mostra como a atual concentração de riqueza nas mãos de bilionários supera até mesmo o período em que atuaram Andrew Carnegie e John D. Rockefeller, dois dos industriais americanos do século 19 chamados de “barões ladrões” devido ao seu método de acumulação financeira. “The Haves and the Have-Yachts” revela a influência desmedida de Wall Street e do Vale do Silício sobre a política americana e a consolidação de uma oligarquia americana baseada no capitalismo de compadrio. O livro expõe um estilo de vida marcado por iates gigantescos, bunkers de luxo, manobras fiscais sofisticadas e doações políticas massivas — símbolos de um abismo cada vez mais profundo entre as classes sociais.
Cassidy propõe contar a história do capitalismo não por sua história de dominação hegemônica ou a compilação de estatísticas e anedotas, mas pelas vozes que questionaram a lógica do capital nos últimos 300 anos. Da Companhia das Índias Orientais à Revolução Industrial e, mais recentemente, às empresas de tecnologia, ele mostra como sempre existiram críticos a alertar para os efeitos nocivos do modelo capitalista. Em vez de tratar o capitalismo como natural ou inevitável, “Capitalism and Its Critics” aborda as ideias de Karl Marx, Rosa Luxemburgo, Silvia Federici e John Maynard Keynes — ao lado de autores menos conhecidos, como a escritora francesa Flora Tristan, o historiador trinitário-tobaguense Eric Williams e o economista indiano J. C. Kumarappa. Cada um, em seu tempo e a partir de diferentes disciplinas, não apenas apontou falhas, mas apresentou propostas de regimes ou políticas públicas alternativos, que influenciariam o estado de bem-estar social, movimentos anticoloniais, iniciativas de economia comunitária e projetos feministas.
Cassidy descreve o capitalismo como um projeto em constante transformação. Essa ênfase na mutação como uma qualidade inerente ao capital se alinha à produção intelectual de Mark Fisher, intelectual britânico falecido em 2017 e crítico da versão neoliberal do capitalismo. Em “Realismo Capitalista” (Autonomia Literária), de 2009, Fisher retratou o capital como uma entidade de plasticidade infinita, capaz de se moldar aos contextos mais diversos. Sua visão é sombria: o capital aparece como um vampiro insaciável, uma força parasitária que se alimenta da vitalidade humana para produzir um trabalho destituído de vida. Para Fisher, a imagem mais precisa para descrever o capitalismo pertenceria ao gênero gótico: trata-se de um sistema que consome a carne de corpos vivos para sustentar uma lógica produtiva automatizada e desumana.
Em “Capitalism and Its Critics”, Cassidy destaca que programas de assistência social nasceram não só em resposta a grandes crises do capitalismo, mas também a pressões cotidianas de intelectuais e trabalhadores que amargavam a precarização das condições materiais de vida. Ele conta como a globalização retirou milhões de pessoas da miséria enquanto aprofundava desigualdades e solapava a confiança nas instituições políticas, principalmente após as reformas neoliberais dos anos 1980, que enfraqueceram sindicatos e concentraram renda entre os mais ricos.
O esforço de recapitular a trajetória do capitalismo pelos olhos de seus críticos, argumenta Cassidy, seria uma forma de recuperar caminhos negligenciados — como cooperativas autogeridas, economias locais sustentáveis ou propostas de “decrescimento” — e refletir sobre a razão para essas alternativas terem sido marginalizadas, mesmo quando ofereciam soluções mais igualitárias. O capitalismo surge assim como uma construção histórica e, por isso, aberta à mudança.
Em “Karl Marx in America”, Hartman lista quatro períodos históricos em que políticos, intelectuais e trabalhadores nos EUA recorreram ao socialismo para criticar o aprofundamento da desigualdade social, a consolidação de monopólios econômicos, a quebra generalizada do mercado financeiro e o imperialismo durante a Guerra Fria. O primeiro momento em que as ideias socialistas conquistaram a atenção de segmentos da sociedade americana ocorreu na chamada Primeira Era Dourada, na segunda metade do século 19, período de rápida industrialização e crescente desigualdade. Foi nesse contexto que emergiram nos EUA partidos socialistas e movimentos trabalhistas radicais, impulsionados por ideias marxistas.
O segundo momento deu-se nos anos 1930, durante a Grande Depressão — a mais profunda crise já enfrentada pelo capitalismo. Não apenas o Partido Comunista dos EUA ganhou força, como diversas correntes derivadas do movimento comunista floresceram diante da alta taxa de desemprego. Em meio à instabilidade econômica e política, muitos passaram a interpretar tanto os dilemas internos dos EUA quanto os eventos internacionais sob uma perspectiva marxista. O terceiro “boom” marxista surgiu nos anos 1960, o que parece paradoxal, já que a economia americana vivia um de seus períodos mais prósperos. Amplos setores da população passaram a integrar uma classe média em ascensão, beneficiada por políticas públicas de investimento. Ainda assim, o impacto do movimento pelos direitos civis, aliado ao fortalecimento de uma esquerda contrária à Guerra do Vietnã (1955-1975), levou muitos jovens e intelectuais a se debruçarem sobre os escritos de Marx e outros teóricos da tradição crítica socialista.
O quarto momento — ainda vigente — de renovado interesse por Marx começou após a crise financeira de 2008. Movimentos como o Occupy Wall Street nos anos 2000 e as campanhas presidenciais de Bernie Sanders nos anos 2010 — ex-democrata, hoje um senador independente por Vermont — reacenderam o debate sobre desigualdade, capitalismo e justiça social. Desde então, cresceu o número de pessoas lendo Marx, escrevendo sobre a sua obra, participando de grupos de leitura marxista e acompanhando no YouTube e em podcasts as aulas gravadas do geógrafo britânico David Harvey sobre “O Capital”. Hartman afirma que ainda é cedo para saber qual será o desdobramento desse novo interesse, mas, assim como nas fases anteriores, ele surge num cenário de instabilidade política e carrega o potencial de transformação histórica impulsionado por ideias socialistas.
De acordo com Hartman, o socialismo millennial é a marca desse quarto período histórico, a Nova ou Segunda Era Dourada. AOC e Mamdani são as suas faces mais descoladas e chamativas nas mídias sociais. Pertencem a uma geração, a primeira desde os anos 1930, que se vê mais desamparada do que a dos seus progenitores. “Essa geração sabe que as suas condições econômicas vão ser piores do que as dos seus pais”, diz Hartman. Essa frustração advém da incapacidade de comprar um imóvel próprio ou ter um emprego estável com salários suficientes para pagar as contas sem o uso de crédito. Em seus discursos, Sanders costuma lembrar que cerca de 60% dos americanos vivem de salário em salário — ou seja, mal conseguem cobrir as despesas mensais e têm pouca ou nenhuma reserva financeira. Cerca de metade dos americanos não conseguem cobrir gasto emergencial de US$ 1 mil. Esses dados revelam um cenário alarmante: muitos americanos sofrem para pagar as contas, sentindo-se sob intensa pressão, como se pudessem a qualquer momento de crise ficar em situação de rua.
Hartman acredita que a América está experimentando uma nova ameaça vermelha. “Ainda não é tão repressiva como a primeira e a segunda ameaças vermelhas, logo depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. No entanto, a nova ameaça, encapsulada na teoria da conspiração do ‘marxismo cultural’, tem despertado o engajamento político dos conservadores.” A direita conspiracionista descreve o “marxismo cultural” como um legado da Escola de Frankfurt, um grupo de intelectuais marxistas na Europa cuja produção teórica estaria contaminando desde os anos 1980 as universidades e esquerda americanas.
O tom alarmista contra o socialismo norteou a campanha de Cuomo e seus ataques a Mamdani, seu principal adversário nas primárias democratas para a prefeitura de Nova York. Em panfletos distribuídos pela cidade — financiados pelas doações de uma elite bilionária —, Cuomo fomentou a noção de uma ameaça vermelha nova-iorquina. Ele recorreu a um discurso baseado em “lei e ordem” e ativou um tropo clássico contra os socialistas: o rótulo de “radical”.
Segundo essa narrativa, Mamdani seria um extremista disposto a elevar o custo de vida, aumentar os impostos sobre famílias e cortar drasticamente o orçamento da polícia, o que tornaria o espaço urbano mais inseguro e perigoso.
Essa estratégia de manipulação, longe de ser novidade, apela ao medo de que políticas mais igualitárias resultarão em caos e violência. Em seu cerne, a reivindicação por igualdade é retratada como anticapitalista e, por isso, antiamericana. Como observa Hartman, Marx atua como um “fantasma” que assombra o imaginário político americano. A presença das ideias do filósofo alemão pode não estar explícita na história dos EUA, mas volta e meia Marx ressurge como um espectro a anunciar a possibilidade de autonomia dos indivíduos sobre os seus corpos e trabalho. O que gera temor — e a consequente necessidade de reprimir os ideais socialistas — nasce da projeção de um futuro alternativo em que a medida de valor será não o lucro, mas o tempo livre.