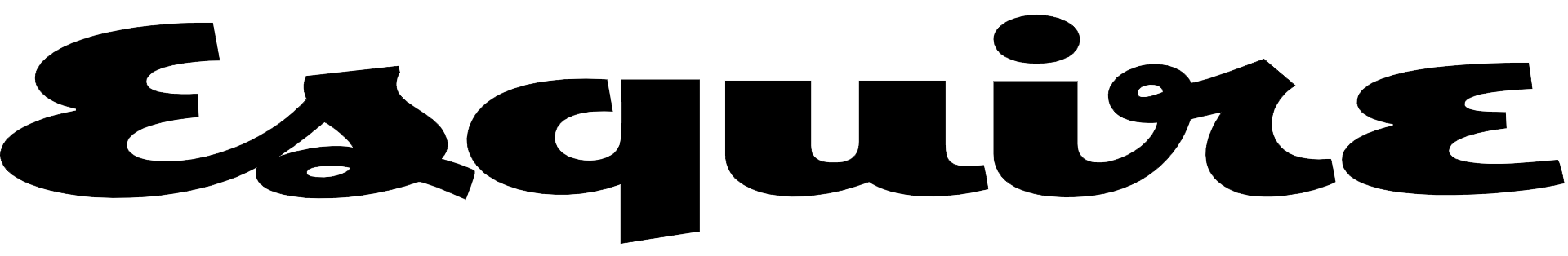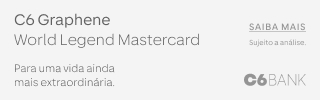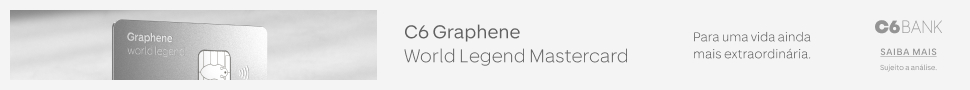Antes mesmo de saber sobre o que trata um filme, há espectadores que já sabem se querem vê-lo apenas pelo selo que o acompanha. O logo da A24, o selo inconfundível da Neon e o paladar global da Mubi funcionam, hoje, quase como grifes. São sinais de que há ali um olhar por trás, um “alguém escolheu isso com cuidado”. Em um mercado saturado de estímulos, o cinema independente ganhou sua própria lógica de consumo aspiracional – e a curadoria passou a operar como um importante ativo de marca.
O fenômeno faz sentido. Nunca houve tantos filmes disponíveis, tantas janelas, tantos algoritmos brigando para sugerir o próximo título. Para o público, a sensação não é exatamente liberdade. É, muitas vezes, cansaço. A curadoria, nesse contexto, não é só um atalho, mas um voto de confiança. Isso explica por que essas distribuidoras passaram a ocupar na cultura um lugar semelhante ao de marcas de moda, cafés de terceira onda ou relojoeiros artesanais. Elas não apenas entregam um produto, mas toda uma bagagem de referências e expectativas.
Assim como todo empreendimento que trabalha com linguagem e comunidade, trata-se de um setor que depende de decisões que unem desejo e estratégia. Leonardo Moura, pesquisador e autor do livro “Como analisar filmes e séries na era do streaming”, chama atenção para o fato de que a curadoria não é só sensibilidade e gosto. Ela envolve método, faixa de público e pesquisa. “Fazer recortes do que vai interessar esse público tem pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas… tudo isso tem um certo uso de métricas, mas não é só usar métrica, não é só data, não é só data nerd.” Sua perspectiva desmonta o equívoco comum de que a curadoria é puramente intuitiva. Para empresas como A24, Mubi ou Neon, a intuição é a porta de entrada; o restante é ciência comportamental aplicada ao audiovisual.
Esse processo se tornou ainda mais sofisticado no momento em que as plataformas de streaming condicionaram o olhar do espectador ao ritmo das recomendações. Na contramão dessa lógica, os festivais mantêm um perfil próprio de apresentação. “Curadoria é uma palavra muito usada hoje para qualquer coisa. A gente usa isso há quarenta e tantos anos; tem uma relevância enorme para quem faz festival”, diz Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Enquanto as distribuidoras-curadoras funcionam como filtros autorais, os festivais operam como espaços de descoberta – lugares pelos quais o público aceita se deslocar sem saber exatamente para onde está indo.
A Mostra, em particular, ocupa um papel singular como porta de entrada para cinematografias inteiras. Renata comenta que sua função é menos a de organizar o consenso e mais a de organizar o olhar – de dar ao público a chance de experimentar filmes que não terão destaque por meio de algoritmo. É o tipo de escolha que molda gostos, mas sem a pressa do ciclo comercial. Em uma temporada em que o cinema global existe entre extremos – megaproduções e microfilmes –, festivais oferecem ao espectador aquilo que as marcas-curadoras prometem, mas pela via de contexto, coerência e comunidade.
A crítica ocupa outra função nesse ecossistema. Pedro Butcher, do jornal “Valor Econômico”, observa que o prestígio em torno de certas distribuidoras se transformou no selo de confiança semelhante ao que revistas e críticos representavam décadas atrás. “Acontece muito nessas empresas que têm forte trabalho de marketing. Acaba virando uma marca de bom gosto, e elas são muito espertas por assumir isso”, diz. Para ele, essas empresas dominam não apenas o jogo de lançar filmes, mas também o de se apresentarem como determinantes do que é cinema relevante. Trata-se, é claro, de algo que a crítica sempre fez, mas agora dividindo o espaço com players corporativos altamente especializados em branding.
Esse rearranjo de poderes – festivais, curadores de marca, críticos, público – tem raízes mais antigas do que parecem. A queda do studio system nos Estados Unidos, após a decisão antitruste do caso “United States v. Paramount Pictures” (1948), desfez a integração vertical que permitia aos estúdios controlar de ponta a ponta o ciclo de produção, distribuição e exibição em salas de cinema. Quando os estúdios foram obrigados a se desfazer das salas, essas vitrines se abriram para cinemas independentes, operadores regionais e, sobretudo, para filmes estrangeiros. A expansão das chamadas art houses, a consolidação da crítica de autor e o contato com cinematografias europeias e asiáticas formaram, ao longo das décadas de 1950 e 1960, uma geração de espectadores “treinados” a reconhecer valor em filmes fora do eixo hollywoodiano. Foi um lento trabalho de formação de gosto, ainda que não nomeado como curadoria, que desembocaria no sistema atual. As marcas hoje vendem o que antes era um processo cultural difuso: um gesto de seleção.
O presente acrescenta complexidades novas. Se antes a disputa era por espaço físico nas salas, hoje é por atenção em um oceano de telas. Moura lembra que há um público “culturalmente escolarizado” que busca diferenciação e que sustenta economicamente essas distribuidoras-curadoras. São espectadores que querem risco, mas não querem perder tempo. A24, Neon e Mubi entenderam isso: programam títulos que pareçam ousados, mas suficientemente conversáveis; que tenham densidade, mas que caibam no imaginário pop; que possam gerar conversa orgânica em redes sociais. Não por acaso, Pedro Butcher diz que essas empresas são “muito espertas” em assumir a própria marca. Elas sabem que não vendem só filmes, mas uma atmosfera.
Na outra ponta, festivais operam como zonas de fricção. São lugares em que filmes ainda podem ser vistos antes de serem interpretados como marca e o público testa suas fronteiras. A experiência coletiva se sobrepõe ao imperativo algorítmico. Renata diz que a Mostra é, há décadas, um desses espaços em que o novo entra não porque foi previsto, mas porque foi encontrado. Esse gesto talvez seja o verdadeiro centro gravitacional da curadoria contemporânea.
O Brasil, claro, tem suas particularidades. Nem o ecossistema industrial nem a lógica de mercado se equiparam aos dos EUA ou da Europa, mas a força dos festivais – e o crescente interesse por marcas-curadoras internacionais – indicam que o público brasileiro também opera segundo essa economia do gosto. E, em um momento em que o cinema nacional disputa janelas e visibilidade, compreender a dinâmica global da curadoria é compreender como se formam critérios, expectativas e relevância. A curadoria, para todos os efeitos, virou uma das coisas de que o cinema mais precisa hoje: uma maneira de dar sentido – e isso vale tanto para quem escolhe os filmes quanto para quem escolhe vê-los.