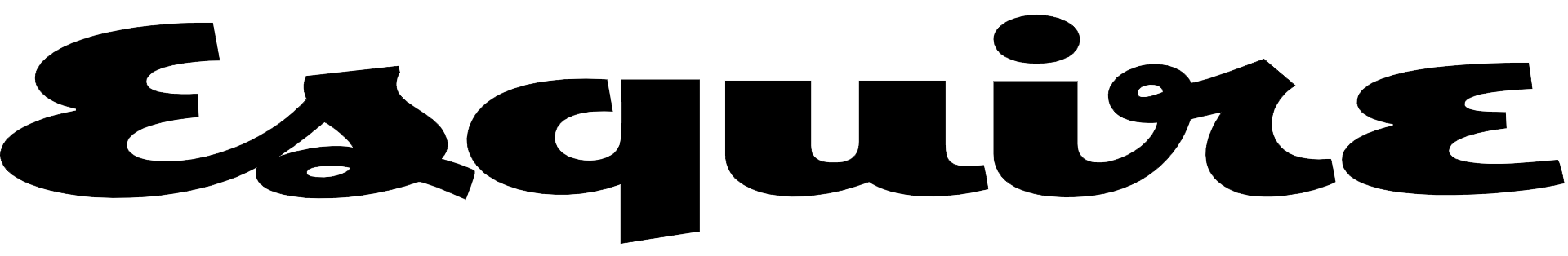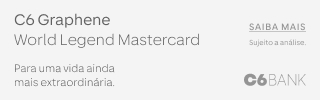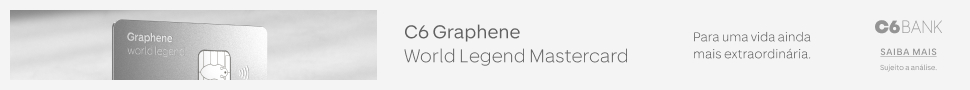Quando completei 40 anos, levantei os punhos e não fugi de uma briga pela primeira vez desde a sexta série. Isso aconteceu em uma academia que parecia ter saído de um filme do Rocky. Naquele ano, eu trabalhava em um escritório alugado no segundo andar de um prédio de três andares sem elevador em Rome, Geórgia. Passava o tempo encarando a janela do escritório, teclando melancolicamente em um projeto fracassado. Um dia, ouvi batidas.
As escadas de emergência levavam a um terceiro andar recém-liberado. “Uma academia”, disse um homem intenso e magro. E de fato era: sacos de pancada, sacos de velocidade, pesos. Ao longo de uma parede de tijolos: um ringue, lona presa com fita diretamente no chão de madeira. O reboco pendia em pedaços; os sacos pendiam diretamente das vigas expostas do teto.
O homem magro era Lee Fortune, ex-detentor do título de peso médio das Américas Continentais do Conselho Mundial de Boxe. Eu queria aprender boxe? Lee, que era policial, planejava cuidar da academia conforme sua escala. Seria US$ 25 por mês para tempo e treinamento ilimitados, várias tardes por semana. “Nada de kickboxing”, ele disse. “Boxe de verdade. Sparring. Você vai usar protetor de cabeça.” Eu disse “claro”.
“Um homem que você nunca viu antes disse que, por 25 dólares, vai te dar um soco na cabeça”, resumiu um amigo. O que mais eu tinha pra fazer?
Mas havia mais por trás disso. Quando cresci nos subúrbios de Cleveland, a menos que você fosse atleta, era vítima no recreio da escola. Empurrado, zoado, agredido — eu era, pelo menos. Os adultos, na época, asseguravam com naturalidade que enfrentar os valentões resolvia o problema, mas eu nunca vi isso acontecer. Tentei uma vez, contra minha vontade, na sexta série. A turma decidiu, como que por consenso, que um incidente no queimada precisava ser resolvido no recreio. Eu disse ao outro garoto que era besteira, tentei sair andando, comecei a reagir, e acabei no gramado, cercado de colegas zombando, debatendo os braços no ar. “Olha só,” ouvi alguém dizer. “Os dois viadinhos brigando.” Continuei até que nós dois paramos de bater, depois fui, chorando, para minha aula de piano. Os valentões principais não deram a mínima; quanto a mim, passei o resto da juventude e início da vida adulta evitando, ou mesmo fugindo, de qualquer briga.
Todo tipo de briga. Eu me encolhia em discussões com meus pais e irmãos; recuava, ferido, diante de provocações no vestiário. No ensino fundamental, tentei usar a estratégia do “ex-bullying se tornando o novo valentão”, mas falhei no primeiro contra-ataque; quando levei um soco aleatório numa confusão racial no ensino médio, simplesmente fiquei parado, sem entender o porquê nem o que fazer. Já adulto, andando pelas ruas da cidade, fugia rapidamente de qualquer situação ameaçadora, uma vez chegando a correr de uma surra aleatória que deixou a mim e a um amigo ensanguentados. Revidar não parecia impensável — parecia inimaginável.
Quando fiz 40, aquela academia era uma oportunidade: talvez fosse hora de lutar. Recebi instruções para comprar tênis de cano alto, bandagens de algodão para as mãos, um par de luvas de treino. E, de forma sinistra, um protetor bucal.
As primeiras semanas foram um campo de treinamento. Cerca de uma dúzia de nós — todos homens com cerca de 25 anos, menos eu — alongávamos, pulávamos corda, fazíamos exercícios de academia. Lee, com uns 35 anos, nos ensinou a enrolar as mãos. As bandagens e as luvas, descobri, protegem as mãos do boxeador — não a cabeça do oponente. Esse era um esporte de pancada.
Aprendemos a nos agachar e inclinar os ombros, protegendo as barrigas ainda flácidas. Mão esquerda ao lado da bochecha esquerda, direita perto do queixo, olhando entre as luvas, adotamos a clássica pose do lutador. Lee nos ensinou o jab: estique o braço esquerdo, pop!, direto no saco de pancada. Depois, o direto, o cruzado — lançado não do ombro, mas dos quadris, impulsionado pela perna de trás e transferindo o peso do corpo inteiro. Sempre ouvi falar em “dar um soco”, mas foi naquele chão sujo de madeira, encarando o saco encardido, que entendi de verdade.
“Jab!”, dizia Lee. Depois os ganchos, de esquerda e direita; o jab e o cruzado eram o um e o dois, os ganchos o três e o quatro. “Dá o velho um-dois” passou a fazer sentido. Lee explicava: No primeiro golpe, ele se inclina à esquerda; no segundo, escorrega com tudo para a direita, onde seu gancho de esquerda encontra a lateral da cabeça dele. Nos acostumamos a socar aquele saco pesado e aprendemos o saco de velocidade, que é questão de ritmo — “bap-bap-bap” — e de manter os braços erguidos o suficiente para fazer os ombros gritarem até o fim do round de três minutos. Esse cronômetro de três minutos definia tudo, seguido de um alarme e um minuto de descanso ofegante.
E estava funcionando. Meus bíceps fortaleceram, meus ombros incharam; minha esposa me apelidou de “Gregory Peitoral.” Comecei a pensar que talvez eu conseguisse mesmo acertar alguém. Então Lee disse: “Tragam os protetores bucais na quinta”, e meu estômago virou.
Já estávamos nos movimentando com o Lee no ringue, acertando os pads em suas mãos, aprendendo a abaixar diante de seus golpes em câmera lenta, mas o sparring era diferente, e a academia parecia diferente naquele dia. Lee conferiu os protetores, escolheu lutadores de tamanho semelhante, enfiou luvas de competição em dedos estendidos, prendeu as fitas. Precisei respirar como em aula de ioga para me acalmar.
Entramos no ringue e o alarme tocou. Lee teve que nos encorajar a nos aproximarmos, e os primeiros jabs, tímidos, foram seguidos de recuos apavorados. “Não viro as costas!”, gritou Lee, nos empurrando de volta. Mas quando me agachei e encarei meu oponente — um cara mais pesado, porém mais baixo, 15 anos mais jovem — ele acertou. Com o protetor de cabeça, senti o impacto, mas não a dor. Uma vida fugindo de brigas e… era só isso? Relaxei. Nos movimentamos, trocamos golpes, e quando acertei um direto, percebi que tinha acertado de verdade. Talvez tenha sido o primeiro soco que dei desde aquele dia no recreio. Talvez o primeiro da minha vida. O alarme tocou; de repente, mãos estavam tirando meu protetor. Logo outros calçaram as luvas com fita e eu me encostei num saco, trêmulo. Eu tinha lutado com alguém.
Fazíamos sparring a cada poucas semanas. Meus movimentos ficaram mais confiantes à medida que aprendi a aparar e fintar. Comecei a achar que talvez eu fosse um cara que sabia se defender. Um dia, Roy, pai do Lee e pequeno promotor, me chamou de lado. Ele montava lutas em cassinos de Biloxi. As lutas principais precisavam de preliminares, e duelos de dois rounds rendiam 500 dólares por “pangaré”. Eu queria lutar? Eu tinha 41 anos e estava na melhor forma da vida.
“Você não acha que a vida já está difícil o bastante com seu cérebro dentro da cabeça?”, respondeu minha esposa em casa. Roy deu de ombros e a vida seguiu. Até que um dia, Lee apareceu.
“Tenho uma luta chegando,” ele disse, com um oponente que chamou de “branquelo lento.” “Preciso de você pro sparring.” Quando percebi, já estava de protetor e luvas no ringue. “Pra esquerda,” dizia Lee, e eu me movimentava, aplicando jabs, tentando uma ou outra combinação. Ele avançava e eu tentava abaixar, defender, fintar, e de repente estava encostado nas cordas, vendo a luminária girar no teto. Lee recuou enquanto Roy e outros dois me seguravam. “Quando você vir aquele gancho de direita vindo,” disse Roy, “você sabe que dá pra desviar.”
Tirei o protetor da boca. “Se eu tivesse visto esse gancho chegando,” respondi, “estaríamos tendo outra conversa.” Parei de fazer sparring com Lee. Nunca acreditei realmente que fosse alguém que sabia se defender. Mas, pelo visto, eu aguento um soco.
No ano seguinte, morei em Nashville e fiz uma aula de boxe no porão de um prédio comercial. Um dia, no escritório de um jornal, joguei no ar uma combinação brincalhona em direção a outros redatores. Um deles se assustou. “Nossa,” ele disse. “Você luta boxe?”
Acho que sim. Um pouco. Mas me aposentei com um cartel de 0–0. Hoje você me encontra numa bicicleta ou correndo atrás de uma bola alta. Não faz tão bem pros peitorais, mas causa menos dores de cabeça. E nenhum eco perturbador do recreio da infância, também.