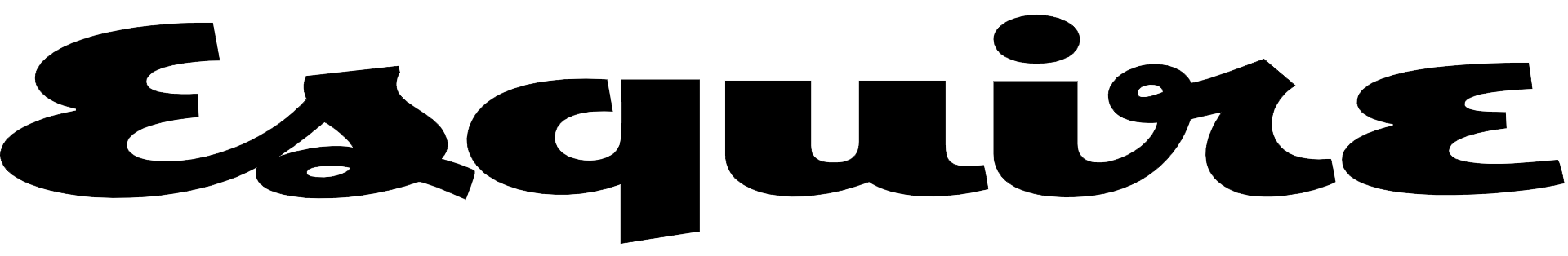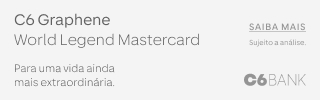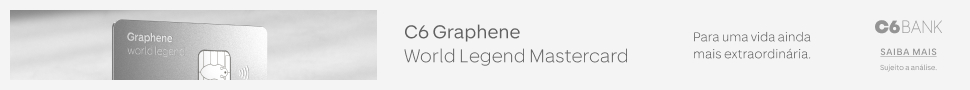Nascido em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, em uma família japonesa que há mais de quatro décadas mantém um restaurante de cozinha chinesa, Caio Yokota cresceu entre contrastes culturais e consolidou sua base na capital paulista, rica em gastronomia, depois de trabalhar em restaurantes tão diversos quanto o Aizomê e o Tuju.
Mineiro de nascimento, mas marcado pelas andanças da família pelo Brasil, entre o Pará e o Ceará, Victor Valadão aprendeu a colocar a brasilidade no centro da sua trajetória culinária. Passou por botecos e restaurantes em Belo Horizonte, depois pelo D.O.M., de Alex Atala, e também pelo Tuju, onde dividiu bancadas e muitos serviços com Yokota antes de os dois amigos decidirem seguir um novo caminho juntos na gastronomia.

Mais improvável ainda é que ambos soubessem tão pouco sobre a ilha asiática e sua copiosa culinária antes de decidirem empreender um projeto que trouxesse seus sabores a um público que provavelmente nunca os havia provado. Mas, hoje, cruzamentos na gastronomia nunca estiveram tão entrelaçados — e os caminhos improváveis desenham novos mapas alimentares nas cidades do mundo.
É o que se convencionou chamar de “terceira cultura” (do inglês third culture), em que o resultado de trajetórias pessoais e culturais híbridas se traduz no prato com uma narrativa própria. É a evolução da cozinha de fusão (aquela surgida nos anos 1970 para combinar elementos de diferentes tradições gastronômicas) em um mundo com menos fronteiras — ao menos, no prato! —, liderada por chefs que viveram entre culturas diferentes, seja por herança familiar ou deslocamento geográfico, e criaram algo que não se encaixa na categoria “tradicional” de nenhuma delas, mas também não é mero experimentalismo.
“Não é sobre fazer uma equação cartesiana. A cozinha não é um mais um é igual a dois, é um processo vivo”, afirma Yokota. “A fusão muitas vezes era negação do passado. O Aiô é o contrário: queremos olhar para a tradição e dialogar com ela”, completa Valadão, mostrando que o equilíbrio é a melhor receita entre os dois.
A paixão pela cozinha taiwanesa aconteceu quando eles provaram os pratos do Maipo, ainda um food truck, que depois eles ajudaram a estacionar (também na Vila Mariana), transformando-o em um restaurante com mesas e endereço fixo.
“Lembro que fiquei tão impactado com aqueles sabores que disse ao Victor que aquilo merecia um lugar maior”, conta Yokota, sobre a experiência transcendente, diferente de tudo que conheciam no Brasil.
História resumida: ficaram amigos de Duílio Lin, um descendente de taiwaneses que depois se tornou sócio e mentor gastronômico dos amigos chefs. Houve uma primeira expedição de 30 dias por Taipei e outras regiões de Taiwan, muitos anos de estudos, compras de livros em mandarim, mesas divididas com os familiares e amigos do futuro sócio e uma imersão que finalmente lhes deu segurança de abrir o Aiô.

São Paulo parecia ter o contexto necessário: uma cidade com tradição fortíssima em cozinha japonesa, mas com cada vez mais espaço para outras expressões asiáticas. Mais do que apenas inovar como uma espécie de porta de entrada para uma cozinha pouco conhecida, o Aiô busca disseminar a cultura gastronômica de Taiwan no Brasil, traduzindo-a com produtos locais, em um diálogo entre diferentes tradições.
“Nossa cozinha é um processo contínuo de transformação e evolução. Não é sobre chegar a um resultado fixo, mas sobre caminhar no sentido dele”, explica Yokota. “O que fazemos é valorizar três histórias ao mesmo tempo: a de Taiwan, a do Brasil e a nossa própria”, acrescenta.
Os chefs esclarecem de cara que não são um restaurante taiwanês, mas um “restaurante de cozinha autoral inspirado em Taiwan”, em que buscam mostrar, nas receitas, “fragmentos de Taiwan” a partir de suas visões.
“Temos muito respeito à tradição, mas com liberdade criativa”, explica Valadão. Isso está muito claro nos pratos que, apesar de terem muito das referências taiwanesas, levam inovações e ingredientes brasileiros, como no you fan, arroz glutinoso com porco, no qual eles adicionam a lula da costa brasileira para um contraste interessante de sabores e texturas.
Ou uma sobremesa que é como uma raspadinha (a versão taiwanesa do kakigori japonês) feita com cupuaçu, ou uma versão do tradicional bolo de nabo que leva pimenta-de-cheiro.
“Não queremos apagar uma origem para criar outra coisa. Queremos mostrar Taiwan, mas traduzida a partir do Brasil”, esclarece o chef. “Não é sobre juntar duas cozinhas para chegar a uma terceira. É sobre mergulhar nelas e criar um diálogo.”
Na gastronomia, a terceira cultura é quase uma bandeira em tempos em que a geopolítica muda em ritmo acelerado, num contexto em que imperialismo, nacionalismo e racismo voltaram a ser termos em voga, à medida que governos mais autoritários intensificam um ciclo de “desglobalização”, marcado por reações nacionalistas e contra o que vem de fora.
À mesa, a mundialização é resultado de um cosmopolitismo culinário, em que cruzamos tanto nossas influências e origens que muitas vezes nem faz sentido achar que uma receita “pertence” apenas a uma região ou país.
Muitos jovens cozinheiros querem provar isso no prato. Em seu premiado Tatiana, o chef Kwame Onwuachi, filho de mãe jamaicana e pai nigeriano, tendo crescido entre o Bronx e Lagos, apresenta uma gastronomia de inspiração afro-caribenha com influências de Nova York, mostrando o poder da cozinha negra.
Na Londres pós-Brexit, Jeremy Chan, nascido na Inglaterra e criado em Hong Kong, constrói sua própria culinária baseada em especiarias e memórias da África Ocidental com técnicas europeias contemporâneas em torno da sazonalidade britânica de vegetais e outros produtos.
De Tóquio a Melbourne, de Paris a Lima, muitos são os exemplos dessa nova gastronomia sem fronteiras.
Em Copenhague, cidade que se tornou um novo e proeminente epicentro da culinária mundial, o chef Kristian Bauman fez de seu Koan um restaurante que é a cara dos novos tempos.
Tendo sido adotado e criado na Dinamarca, mas com origens coreanas, Bauman empreendeu uma jornada de descoberta da sua origem em longas viagens para mergulhar em todas as áreas da culinária coreana, da comida de rua à alta gastronomia, antes de infundir esse conhecimento com sua experiência nas melhores cozinhas nórdicas (entre elas, a do multipremiado Noma).

O Koan se inspira na ideia de reduzir fronteiras culturais e provocar o comensal a pensar e sentir de forma diferente sobre a comida daquele país.
“Não estou tentando fazer comida coreana na Dinamarca; estou criando um diálogo em que as duas influências estão presentes, mas o resultado soa natural e muito pessoal”, especifica o chef.
O diálogo que Bauman busca está justamente na autenticidade, ao respeitar a essência das tradições da Coreia do Sul (incorporando cerâmicas, arte e design coreanos, construindo uma narrativa sensorial completa) e interpretá-las a partir do entorno nórdico — de ingredientes, claro, mas também de fatores culturais, de maneiras de comer.
“Autenticidade significa não copiar um prato exatamente como é feito em outro lugar. É preservar a essência, as técnicas e os sabores, mas interpretá-los através das minhas experiências e do ambiente onde vivo.”
A diferença, para ele, está na profundidade: não usar elementos como adorno, mas criar pratos que tenham coerência, memória e propósito. “Eu parto do respeito profundo pelas duas tradições e filtro isso pela minha própria sensibilidade”, diz.
Nos pratos, é possível reconhecer preparos e sabores coreanos, mas ao mesmo tempo Bauman consegue apresentar as receitas de formas inéditas, como o seu Kkwabaegi, o tradicional donut coreano trançado, mas aqui feito como um brioche leve, ou o Gamasot, o arroz coreano cozido em uma panela de ferro, servido com camarões crus dinamarqueses e ovas de truta.
“Quero criar momentos em que não se sabe o que é dinamarquês e o que é coreano. Meu objetivo é que as fronteiras se dissolvam e o prato faça o cliente pausar, pensar e provar a comida de outro jeito”, conclui.