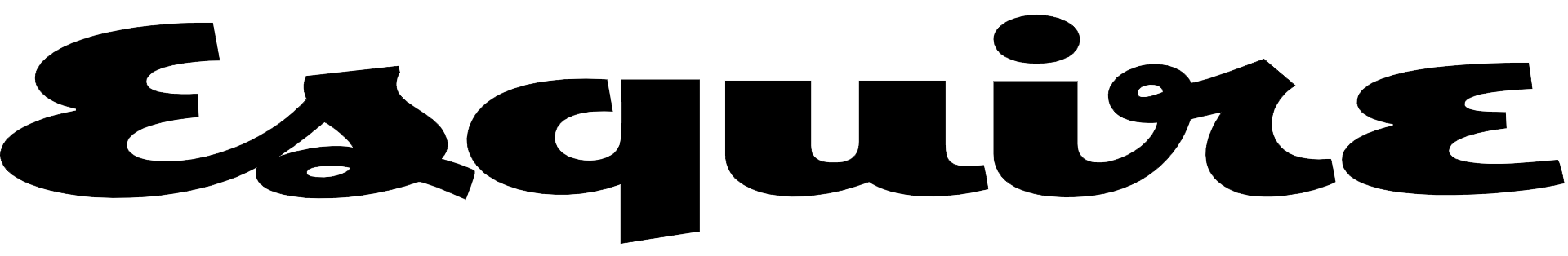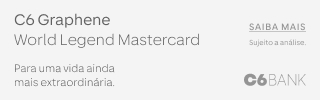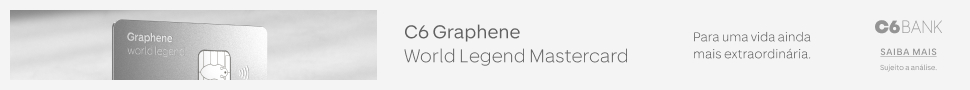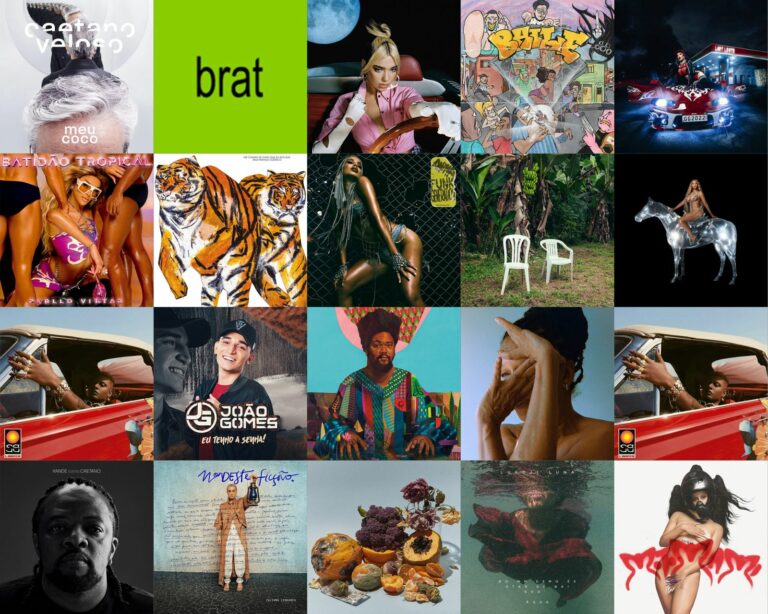“Os superstars do rock paulista decididamente elegeram o champanhe como o seu refrigerante preferido. Já no sábado de Carnaval, por exemplo, o guitarrista superb Luís Sérgio Carlini abria as portas de sua mansão na Pompeia, recebendo em petit comité la crème de la crème dos roqueiros. Na ocasião, foram espocadas 30 garrafas de Moët et Chandon e depois everybody estripou, em homenagem ao Made, um supreme de pouse. De sobremesa, vários LPs, adquiridos por Sérgio na Zona Franca de Manaus, foram degustados por ouvidos de gente finíssima. Além do champanhe, o LP preferido da noite foi o primeiro álbum solo de Keith Richards, “I’m not silly, I’m only crazy”, escreveu Ezequiel Neves, em sua coluna “Let it rock”, publicada no “Jornal da Música”, em fevereiro de 1976.
Assim como outros apaixonados pelos Rolling Stones, o então novato jornalista José Emilio Rondeau ficou excitadíssimo com a notícia da estreia solo do guitarrista da sua banda favorita. E saiu procurando o disco. Procurou nas lojas do Rio e de São Paulo. Nada. Perguntou a amigos que moravam em Nova York e Londres. Nada. Ninguém sabia desse disco. Ninguém tinha ouvido falar dele. Nada. Só Ezequiel.
“Muita gente acreditava em tudo que Zeca escrevia porque parecia real e fazia o maior sentido. Eu era uma dessas pessoas”, lembra Rondeau. “Saí procurando o disco de loja em loja. E nada daquilo era verdade. Aquele álbum nunca existiu, Mas o título do disco era perfeito e tinha tudo a ver com o Keith. Eu caí na brincadeira do Zeca, que também inventava festas memoráveis em São Paulo, onde incontáveis garrafas de champanhe eram ‘espocadas’ como se não houvesse amanhã. Me tornei fã ainda maior dele quando entendi que o que ele estava fazendo era cascata total, mas era puro rock ’n’ roll.”
“O Zeca não mentia, ele criava histórias que mereciam ser verdade”, completa Nelson Motta, falando sobre o caso Keith Richards, que ilustra um pouco — ou muito — da trajetória de um dos mais celebrados críticos de música do Brasil — uma atividade, diga-se de passagem, raramente endeusada —, um personagem de várias camadas, que seguem sendo desvendadas até hoje, 15 anos após a sua morte, quando é tema de um documentário e um livro. Ele, José Ezequiel Moreira Neves (1935-2010), o mineiro, que se estabeleceu em São Paulo e acabou morando no Rio até sua morte. O ator, que virou escritor, que virou jornalista e editor da primeira “Rolling Stone” brasileira, que virou produtor musical, que virou padrinho do Barão Vermelho, que virou compositor de hits como “Exagerado” e “Codinome beija-flor”. O fã de Nina Simone e Elizeth Cardoso que acabou seduzido por Jim Morrison e Mick Jagger (e, mais tarde, por Cazuza). O Ezequiel Neves, que, dependendo da ocasião, também atendia por Zeca Jagger, Zeca Zimmerman, Zeca Rotten ou Angela Dust, e que tratava todos como “garotinho” ou “garotinha”.

“Parece que o Ezequiel teve, realmente, várias vidas”, afirma Rodrigo Pinto, diretor do filme “Ninguém pode provar nada”, documentário com pitadas de ficção, que estreia no circuito dos festivais em outubro, tentando resumir a trajetória múltipla do seu personagem principal. “Ele foi aclamado como ator e agitador cultural da capital mineira. Depois, encabeçou uma revista revolucionária, que era a expressão mais corajosa da contracultura sob o período mais letal da ditadura. Acompanhou o surgimento dos Mutantes, Rita Lee e Made in Brazil, alçando muita gente ao sucesso. E acabou sendo recrutado pela indústria da música, trabalhando com Cauby Peixoto, Angela Ro Ro e Elizeth Cardoso até, finalmente, descobrir Cazuza e Barão Vermelho, virando um hitmaker da geração dos anos 80. Como bem nota Roberto de Carvalho no filme, o Ezequiel foi um “protoinfluencer.”
Proto, ensinam os dicionários, é aquele que veio primeiro, o que procedeu os demais, a referência. Os que foram próximos a Ezequiel sabem que ele odiaria ser considerado modelo de alguma coisa, mas a expressão usada pelo guitarrista e viúvo de Rita Lee faz sentido. Apesar da força dos seus primeiros passos como ator e escritor, em Belo Horizonte, nos anos 60, convivendo com nomes como Angel Vianna, Jonas Bloch, Fernando Gabeira e Affonso Romano de Sant’Anna e, depois em São Paulo, trabalhando com Jardel Filho, Cacilda Becker e Antunes Filho, ele ergueu-se, de fato, quando trocou, definitivamente, os palcos pelas redações no final daquela década, começando pelo “Jornal da Tarde”, ligado ao “O Estado de S. Paulo”.
No papel de jornalista e crítico, Ezequiel deixou fluir toda sua cultura musical e também sua irreverência, incorporando, aos poucos, à medida em que se apaixonava pelo rock, uma psicodélica mistura de Hunter S.Thompson e Lester Bangs, duas das maiores assinaturas da área. “O Zeca era um gonzo tropical, dono de um estilo iconoclasta, de uma inteligência brilhante e sofisticada. Tinha também um profundo conhecimento da cultura pop e um humor cáustico e sarcástico”, define Motta.
Quando se mudou para o Rio, no começo dos anos 70, para editar a “Rolling Stone” brasileira, ao lado de craques como Luís Carlos Maciel e Ana Maria Bahiana, Ezequiel “desbundou” de vez, para usar uma expressão da época. Foi quando passou a entortar sua erudição pop com invencionices, inclusive seus inúmeros alter egos, criando uma espécie de jornalismo invenção, marca inconfundível que levou, depois, para publicações como “Som Três”, “Pop”, “Playboy” e o próprio “Jornal da Música”. Um “best of” dos seus textos desse período está no livro “Palmas e urras para a coragem”, editado por Rodrigo Pinto, que sai em outubro pela editora Máquina de Livros.
“Quem mais, ao conhecer Steve Jones e Paul Cook, dois Sex Pistols de férias no Rio, os recepcionaria com a frase ‘never mind the bollocks, garotinhos’, para confusão absoluta dos dois? O Zeca não se levava a sério, embora sua ética de trabalho fosse impecável. Não só não atrasava seus textos, como entregava antes do prazo”, conta Rondeau. “O Zeca era fruto da contracultura, tempos em que se precisava dizer as coisas nas entrelinhas, fugir da realidade e sonhar com um mundo melhor”, afirma Cláudia Penteado, que fez dele, em 1991, o tema de sua monografia no curso de Jornalismo.
No começo dos anos 80, porém, Ezequiel trocou de lado e foi trabalhar na indústria fonográfica — ou pornográfica, como dizia com a usual irreverência. Na Som Livre, acabou convencendo o presidente da companhia, João Araújo, a lançar o disco da banda que tinha seu filho nos vocais, começando uma longa relação com o Barão Vermelho, de quem produziria os primeiros trabalhos, e com Cazuza, de quem se tornaria amigo e parceiro musical.
“O Zeca foi um cara fundamental para a história do Barão Vermelho e para a minha vida, em particular”, conta Roberto Frejat, guitarrista e um dos fundadores da banda. “As pessoas não entendiam nossa relação de trabalho porque ele não funcionava como um produtor normal. Ele tinha seu próprio jeito de explicar que alguma coisa não estava boa, com definições que destruíam a gente, nos fazendo retomar uma ideia. Ele sempre conseguia botar nossa bola no chão quando a gente estava se achando um pouco demais.”
Quando Cazuza seguiu carreira solo, Ezequiel foi junto, produzindo seus discos e compondo com ele — que considerava um Rimbaud tupiniquim — alguns dos seus maiores sucessos. A parceria da dupla, às vezes conflituosa pelos choques dos seus gênios, seguiu até a morte do cantor, vítima de aids, em 7 de julho de 1990. Curiosamente, Ezequiel morreria, exatamente 20 anos depois, de um tumor no cérebro, que apelidou, desde a descoberta, de “Toninho”.
Por um misto de sorte e intuição, Rodrigo Pinto acabou registrando a reta final da extraordinária linha do tempo de Ezequiel Neves, material que gerou “Ninguém pode provar nada”, um “desdocumentário” que conta com trechos em que o ator Emílio de Mello interpreta o personagem principal.
“Passei a colher os depoimentos em 2005. Em paralelo, comecei a pesquisar sobre o Zeca. Quatro anos depois, tinha mais de 50 horas de material. Quando revi, notei que dava um filme. Àquela altura, ele já mostrava os sintomas do “Toninho”, que começava a limitar tudo que ele gostava: sexo, literatura, cinema, drogas, rock n’ roll e conversa afiada”, conta o diretor, que explica o inusitado rótulo para um inusitado personagem. “Busquei desconstruir gentilmente o documentário como gênero jornalístico, usando elementos consagrados pela própria linguagem documental. Usei imagens de arquivo, trechos de filmes clássicos, documentos históricos e depoimentos que, se não existiram, deveriam ter existido porque ecoa no filme uma frase ótima do Ezequiel: ‘Eu inventava frases que os artistas iriam adorar ter falado’.”
Em tempo: o primeiro disco solo de Keith Richards se chama “Talk is cheap” e foi lançado em 1988.