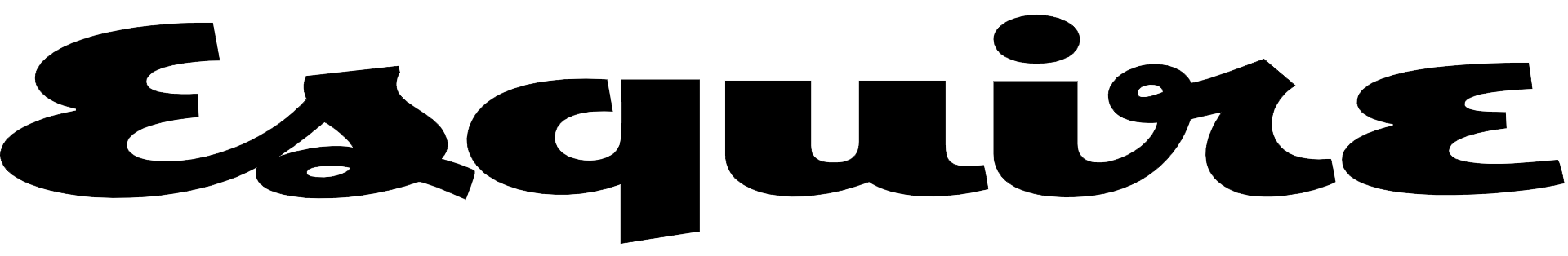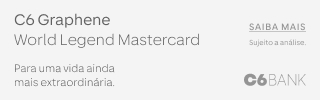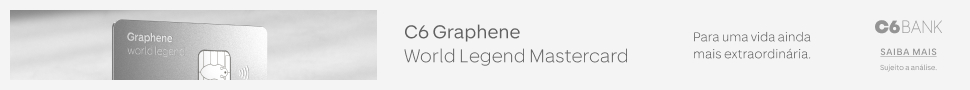Christopher Hitchens caminhava com passos firmes pelas pedras irregulares de Paraty, apesar de, eu já ia acrescentando, se manter sempre algumas doses à frente da humanidade. Quase vinte anos passados daquela Flip, suspeito que o equilíbrio seria, ao contrário, uma consequência direta do consumo industrial de uísque. Hitchens, como poderia confirmar depois em profusos relatos de jornalistas e amigos, era literalmente movido a álcool e nicotina: acendia um cigarro no outro e, quanto mais bebia, mais organizava o raciocínio, mais engraçadas eram as tiradas, mais desconcertantes os argumentos.

Naquele agosto de 2006 eu não sabia deste detalhe crucial e vivia o auge da Tensão Pré-Flip. A TPF, que acomete editores nas vésperas da festa literária, costuma bater mais forte quando se joga na loteria do autor estrangeiro. Impossível saber se a abertura de portas do avião dará início a uma bela amizade ou a uma temporada no inferno. Eu desejava e temia que Hitchens correspondesse a tudo o que sabia ou imaginava saber dele. A inteligência luminosa e a provocação desabusada certamente renderiam grandes momentos de debate e atenção para Amor, pobreza e guerra, coletânea de ensaios que eu acabara de publicar pela Ediouro. Mas o pacote, supunha, incluiria algum aborrecimento.
Não eram poucos — e entre eles eu discretamente me incluía — os que, apesar de admirar sua inteligência e verve, lamentavam o apoio sistemático à invasão do Iraque pelos Estados Unidos e à absurda “guerra ao terror” deflagrada por George W. Bush. As convicções do jovem trotskista, já há muito trincadas, tinham ido abaixo com as torres do World Trade Center. Autor de panfletos demolidores contra Madre Teresa de Calcutá (The Missionary Position, título que faz referência ao missionarismo e à posição sexual “papai-mamãe”) e contra Henry Kissinger (The Trial of Henry Kissinger), Hitchens também navegava com desenvoltura pelas páginas da Vanity Fair, para onde escreveu por 19 anos. “Christopher foi um dos últimos grandes intelectuais liberais, mas tinha graça e charme, o que o tornava mais palatável para o centro e os conservadores”, observa Graydon Carter, o editor que o contratou, em seu recente livro de memórias When the Going was Good.
Hitchens foi, para resumir, um reacionário imperfeito. E, pessoalmente, um doce radical.
Nos encontramos pela primeira vez num restaurante metido a besta de Ipanema, na véspera de embarcarmos para a Flip. Camisa social azul amarfanhada e jeans, o inglês, que dormia pouco por ter horror à inconsciência, dizia-se relaxado depois de quase 20 horas de voo entre São Francisco, onde passava férias, e o Rio de Janeiro. Aparentando mais do que seus 57 anos, adorava viagens longas, quando conseguia ler sem interrupção e ficar longe do cigarro — no auge do tabagismo, dizia fumar até no chuveiro. Ainda que não sendo exatamente um amador, me impressionei pelo método e a velocidade com que consumia o scotch 8 anos: as doses fartas, em temperatura ambiente, eram servidas num copo baixo, escoltado por um outro, longo, entupido de gelo e reabastecido regularmente com Perrier. À mesa, Hitchens logo percebeu a formalidade de alguns convivas e cochichou: “Isso aqui é importante para você, né?”.
Tendo abatido, com minha modestíssima colaboração, uma garrafa de uísque e duas de vinho brasileiro, que insistiu em provar, Hitchens dominou o jantar numa prévia dos dias que viriam. Virtuose na arte de falar mal, emendava análises e anedotas entre o afável e o enfurecido, mudava de assunto em velocidade estonteante. Ian McEwan descreveria com precisão o peculiar modo de funcionamento de um de seus melhores amigos: “Tudo parece estar neurologicamente disponível, instantaneamente disponível: tudo o que ele já leu, todas as pessoas que já conheceu, todas as histórias que já ouviu”.
Para puxar assunto, lembrei que em 2002 tínhamos nos encontrado em Hay-on-Wye, no festival literário do País de Gales que serviria de modelo a Paraty. Eu trabalhava com Flávio Pinheiro na curadoria da primeira Flip, que deixei para ser editor, e passamos dois dias na cidadezinha repleta de livrarias. “Você era o jornalista brasileiro que tinha escrito sobre meu livro? Nós conversamos com Margaret Atwood!” Sim, em Hay eu tinha dito a ele que publicara uma resenha sobre o Kissinger; e, sim, Liz Calder, editora inglesa que foi uma das idealizadoras da Flip, nos apresentou à escritora canadense, ainda longe de ser o fenômeno pop que se tornou depois da redescoberta de O conto da aia, lançado em 1985.
Era mesmo verdade o bilhete de McEwan. Hitchens desembarcou em Paraty com uma mala de rodinhas e uma caixa com meia dúzia de garrafas de Johnnie Walker Red comprada no Free Shop. Gabava-se de sua prevenção: provou cachaça e achou uma bobagem. Caipirinha? “Bebida de mulher”. Nos cinco dias da Flip, encontrava-o entre a piscina e as varandas da Pousada da Marquesa, onde circulava de meias, empunhando o copo — aquele copo baixo e sem gelo, que mantinha cheio com idas periódicas ao quarto. Me chamava de “chefe” por conta de uma agenda relativamente pesada de entrevistas que cumpriu com gentileza e paciência, antes e depois de sua participação na programação oficial — a mesa “Profissão, repórter: na linha de frente”, em que conversaria com Fernando Gabeira, mediado por Merval Pereira.
No Brasil de 2006 a extrema-direita ainda não corria a céu aberto e tampouco as preocupações com diversidade mobilizavam a programação. Dentre os 32 convidados da festa, que homenageava Jorge Amado, havia quatro autores negros — Toni Morrison, Benjamin Zephaniah, Ondjaki e Uzodinma Iweala — nenhum deles brasileiro. Em matéria de política, a Paraty de então estava mais perto do Oriente Médio do que do Brasil. Tariq Ali, o histórico ativista da esquerda britânica de quem eu também editava um livro, a reunião de entrevistas A nova face do império, leu um manifesto, assinado por outros autores, contra a presença de Israel no Líbano numa etapa particularmente sangrenta do conflito entre os dois países.
Era a deixa que Hitchens esperava. “Esses socialistas estão ao lado das forças mais reacionárias. Alguém que acha Osama bin Laden revolucionário é hostil para mim”, disse à Folha de S.Paulo. “Posso ser educado, mas estamos de lados opostos em uma guerra. Quero que o lado deles seja destruído.” Ao jornal também fez uma ressalva: “Tenho de dizer que Tariq Ali é diferente de meus oponentes. Ele já concordou em debater comigo, enquanto a maioria se recusa.” Achei por bem não mencionar a resposta de Ali a um convite meu para que, depois da Flip, os dois fizessem uma conversa pública no Rio. “Desculpe, mas debater com Hitchens é um esporte que eu não pratico mais”, me disse ele, rindo.
O “chefe” era eu, mas quem mandava era ele. Numa noite, pediu que o acompanhasse da pousada até o restaurante onde nós, da editora, ofereceríamos um jantar. Depois de mais uma demonstração de desenvoltura e equilíbrio sobre as pedras, só não chegamos antes do que uma querida amiga, pontualíssima, que, eu tinha certeza, abominava cada uma das opiniões recentes do “meu” autor. Não houve jeito: sentaram-se juntos e, uísques servidos, engataram uma conversa animada sobre militância e Inglaterra, onde ela vivera no final dos anos 1960. Aliviado, o chefe aqui só voltaria à mesa quando solicitado: “Preciso comer alguma coisa. Agora. Qualquer coisa.” Foi o único sinal de que o álcool não corria tão bem quanto o habitual. Providenciei umas bruschettas. Ele devorou todas. E partiu, com ânimo renovado e vinho tinto, para mais uma interminável série de histórias.
Na tarde de sexta-feira, um dia antes de sua participação na programação oficial, voltei a ser convocado: “Chefe, vamos ver Lillian Ross!”. Aos 88 anos — 79 declarados à imprensa —, a mítica jornalista da New Yorker dividiria a mesa com Philip Gourevitch, então jovem e brilhante repórter, que ganhara um Pulitzer com uma aterrorizante reportagem sobre o genocídio de Ruanda, Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Depois de leve altercação com um segurança, única pessoa capaz de separar Hitchens do copo de vidro que insistia em levar para a plateia, nos encaminhamos para o nosso lugar meio atrasados, quando as estrelas da tarde já entravam no palco. Hitchens, o enfático, achou que o público ignorava Ross. Logo começou a bater palmas e gritar: “Clap, bastards! It’s Lillian Ross!”. Um pouco constrangido, torci para Ross não ter percebido o que os bastards ouviram muito bem. Minutos depois, Gourevitch certamente ouviu e identificou, na primeira fila, de onde vinha a gargalhada debochada que cortou seu raciocínio quando dizia não existir “um estilo New Yorker”.
Em outubro de 2006, Hitchens foi protagonista, na New Yorker, de um perfil inteiramente no estilo New Yorker. O título, He knew he was right, é um achado ao explorar a dubiedade de right — “ele sabia que estava certo” ou “que era de direita”. E, no espírito de retratar um personagem pela maior variedade de ângulos, Ian Parker fala abertamente sobre alcoolismo com Carol Blue. Ao confirmar a proverbial resistência do marido à bebida, ela faz um comentário que poderia até soar premonitório, não fosse de um realismo brutal: “De vez em quando, ele parece estar meio bêbado. Fora isso, mesmo sendo obviamente alcoólatra, funciona muitíssimo bem e não se comporta como um bêbado. O único problema real é que isso provavelmente está destruindo o fígado dele. Seria um tremendo azar se Henry Kissinger chegasse aos cem anos e Christopher morresse ano que vem”.
Christopher Hitchens morreu em 2011, aos 62 anos. Veio uma segunda vez ao Brasil, em novembro de 2007, lançar o que seria seu único best-seller, Deus não é grande – Como a religião envenena tudo, que eu também editara, mas não pude ir encontrá-lo em Porto Alegre, única cidade em que esteve por poucos dias. Fez do tratamento contra o câncer de esôfago, detectado em plena turnê de lançamento da autobiografia Hitch-22, uma estupenda série de colunas para a Vanity Fair, reunidas no livro Mortality — traduzido como Últimas palavras.
Na doença, lamentava a possibilidade de não sobreviver para escrever os obituários de Bento 16 e Kissinger. Joseph Ratzinger morreria em 2022, nove anos depois de abdicar ao papado. Kissinger em 2023. Aos 100 anos e 6 meses.